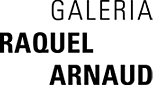a revolução tem que ser feita pouco a pouco | parte 1: diferença e repetição
08 mai - 23 jun _ 2012

Carlos Zílio
Felix Gmelin
Haris Epaminonda
Héctor Zamora
Lisa Tan
Mabe Bethônico
(uma exposição em quatro etapas)
No seu Guia prático para o desvio, Guy Debord argumentava que uma das mais eficazes estratégias de insubordinação social seria a apropriação, ou desvio, de frases e conceitos alheios, para fins revolucionários. Debord identificava vários tipos de desvios, entre eles o desvio menor, em que as palavras ou frases apropriadas não possuem importância própria, mas a adquirem em virtude do novo contexto onde são utilizados, e principalmente o desvio enganador, em que o conceito apropriado é intrinsecamente significativo, mas toma uma dimensão e um valor diferentes no seu novo contexto. A frase que dá nome à exposição pertence, evidentemente, a essa segunda tipologia: retirada de uma entrevista recente de Paulo Mendes da Rocha, no seu contexto originário referia-se à necessidade de uma revolução nas metodologias da construção civil e, metonimicamente, na cidade e na sociedade como um todo. No novo contexto, a frase mantém seu fascínio, mas adquire outros significados, sugerindo, em primeiro lugar, a necessidade, para uma galeria de arte, de transformar-se constantemente, acompanhando as mudanças incessantes da produção artística e (aqui também poder-se-ia falar em metonímia, ou até em premonição) da sociedade. Evidentemente, quanto maior e mais prestigiosa a história da galeria, mais premente e árdua torna-se essa tarefa…
A revolução, diz o arquiteto, tem que ser feita pouco a pouco. As obras aqui reunidas, num primeiro momento organizadas em conjuntos menores e conceitualmente mais coesos, e finalmente rearranjadas com base em outros critérios na reprise final, sugerem de fato uma revolução prolongada, das que não entram nos livros de história, talvez nem nos livros de história da arte, pela simples razão de que não começam e não terminam, apenas acontecem. E de fato, a escolha dos temas das três primeiras etapas da exposição responde exatamente ao desejo de olhar, de pontos de vista distintos mas complementares, um mesmo universo. Não é por acaso, aliás, que a maioria das obras poderia encaixar-se perfeitamente em mais de um destes marcos curatoriais: a revolução é magmática, fluida, feita rio que nunca é o mesmo, e que, contudo, não muda nunca. A decisão de dividir a exposição em etapas responde, entretanto, ao desejo de desvencilhar-se das convenções, como a que dita, para uma galeria, a necessidade de expor apenas ‘seus’ artistas, ou de não repetir a mesma obra em duas exposições seguidas, ou mesmo de não tentar construir uma narrativa que ouse expandir-se para além das poucas semanas de duração de uma mostra convencional. Desvencilhar-se, enfim, dos preconceitos que poderiam impedir a revolução, o primeiro dos quais, naturalmente, é a convenção de que uma revolução tem que ser rápida, surpreendente e violenta, quando na verdade ela precisa acontecer aos poucos, tomar o tempo que for preciso, ocupar e mudar o mundo enquanto ninguém olha.
parte 1.
Diferença e repetição
Antes de decidir definitivamente que o título da primeira etapa da exposição A revolução tem que ser feita pouco a pouco seria Diferença e repetição, foi feita uma pesquisa, bastante aprofundada mas relativamente simples, para verificar se, de fato, houve outras, com o mesmo título, nos últimos anos. E houve, naturalmente, a última das quais há poucos meses, quando a preparação desta já estava adiantada, e o título já fora praticamente escolhido. A coincidência, que em outros casos teria sido infeliz, neste acaba validando a decisão de refletir sobre a questão, e mais especificamente sobre a maneira como a ideia de uma repetição que é, contudo, sempre diferente, constitui um tema recorrente, e apesar disso sempre aberto a novas interpretações e leituras, no âmbito da arte e, de maneira mais geral, da cultura contemporânea. A referência mais direta, naturalmente, é ao livro de Gilles Deleuze de onde o título foi (nesse e nos outros casos) desviado, mas outra, não menos importante, é a Pierre Menard, o personagem do conto de Borges, cuja empresa mais assombrosa não foi a de escrever de novo dois capítulos (e parte de um terceiro) do Don Quixote, mas de escrever trechos de um livro completamente diferente do de Cervantes, apesar de os dois serem exatamente idênticos, linha por linha e palavra por palavra. Com a mesma pertinência, e de maneira mais próxima ao que o próprio Deleuze afirma, poder-se-ia argumentar que, nisso, Menard não demonstrou nenhuma habilidade particular, já que, muito simplesmente, não é possível refazer algo. Quanto mais iguais, mais distintas serão duas versões de uma mesma obra, de uma mesma imagem e até, cabe pensar, de uma mesma ideia.
No âmbito específico da produção artística das últimas décadas, essas questões não saem da ordem do dia, ao ponto de constituírem o assunto central da obra de vários artistas, desde apropriacionistas que já podem ser considerados ‘históricos’, como Elaine Sturtevant e Sherrie Levine, até expoentes de gerações mais novas, para quem a decisão de repetir, mesmo com as inevitáveis diferenças, torna-se um ato político (Sandra Gamarra), um método de estudo e reflexão quase filosófica (Roni Horn), ou uma homenagem apaixonada (Jonathan Monk). Para os artistas incluídos nesta exposição, entretanto, a questão não é fundamental, e é exatamente essa consideração que acaba justificando a aproximação dos seus trabalhos, de certa forma enfatizando que, ao apontar tanto para a diferença quanto para a repetição, o que fazemos é enfatizar a existência de uma relação. Essa noção é central, evidentemente, na obra de Lisa Tan, uma série de retratos de ‘casais’ de livros, fruto da fusão das bibliotecas da própria artista e do parceiro com quem passou a viver. Em alguns casos, as edições são as mesmas, o par é idêntico, em outros, pequenas ou grandes disparidades sugerem que qualquer relação nasce da soma de diferenças e semelhanças, e com o desafio de sobreviver a ambas. A busca de uma relação é o que move também o projeto O Colecionador, de Mabe Bethônico, para o qual a artista sucumbe à tentação (ou mania) taxonômica, acumulando compulsivamente recortes de jornais com imagens parecidas, porém nunca iguais, sucessivamente classificadas com base em tipologias extremamente precisas, como se essa fúria arquivística pudesse ajudá-la, e ajudar-nos, a entender o mundo. Um mundo do qual as imagens de Haris Epaminonda nos trazem fragmentos esparsos: ao reproduzir, com uma câmara Polaroid, fotos tiradas originalmente nos anos 1950, a artista cipriota compõe uma elegia do tempo passado, ao passo que leva ao extremo a discussão sobre a impossibilidade de se reproduzir algo em contextos e épocas diferentes. O enxame de Zeppelins concebidos por Héctor Zamora, que já invadiram Veneza em 2009, explora outras implicações do conceito de repetição, ao ser não apenas o resultado da serialização de uma forma, mas um trabalho que aspirava a tornar-se lenda urbana, isto é, a ser repetido, cada vez de uma forma diferente, até perder completamente qualquer controle sobre si mesmo, tornando-se autenticamente público. De maneira análoga, a força dos pregos desenhados por Carlos Zilio no final dos anos 1970 para uma série de serigrafias (novamente, a repetição, aqui pelo viés da “reprodutibilidade técnica”) está na serialização, aqui evidentemente carregada das mensagens e metáforas políticas que marcaram a melhor produção do país nessa época, num convite tácito, mas poderoso, à insurreição. O mesmo convite que animava o filme de Gerd Conradt, de 1968, em que estudantes de uma escola de cinema correm por Berlim com uma bandeira vermelha. Ao filmar em vídeo, 25 anos mais tarde, com seus alunos, uma sequência quase idêntica, e projetar as duas lado a lado, Felix Gmelin homenageia o pai, um dos estudantes/atores do vídeo original, mas também aponta para o fato de que, à la Menard, “meu filme é sobre algo completamente diferente [do original de Conradt], apesar de eu repetir as mesmas ações”. Nas palavras do artista, e de maneira surpreendentemente pertinente no âmbito desta exposição, Gmelin sugere que a diferença principal entre hoje e a época em que seu pai e Conradt realizaram o filme original é que eles “estavam convencidos de que a revolução era o método que conseguiria mudar o mundo”.
Jacopo Crivelli Visconti