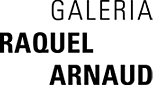eduardo sued_
20 set_1984 - 27 oct_1984

UM MÍNIMO VALOR: O MUNDO
A pintura se torna mais e mais evidente e atual; mais e mais o seu sentido de ordem, denso e complexo, comparece de uma maneira imediata e flagrante. A conquista da superfície, a estrita tensão com os limites bidimensionais, prossegue inexoravelmente. As cores passam a se determinar com muito mais clareza, adquirem progressivamente o caráter abstrato de valor. O quadro assume, assim, o modo da estrutura- um todo lógico de pintura; ou antes, um todo da imaginação da pintura. E essa imaginação não transige com nada alheio ao processo pictórico. Atua logo a um nível originário: o que está em questão é a origem da pintura e, naturalmente, esta não é uma ideia mas uma certa modalidade do fazer. A rigor, pois, a tela não representa, nem projeta- é somente, um singular e intenso ato de pintura; e repete, incansável, a pergunta: o que é pintura?
Por isto, o trabalho está preso ao limiar, ao recomeço. Os seus esquemas, relações e procedimentos serão no máximo instâncias, momentos, de uma investigação que não terá fim porque busca o princípio. Não há, portanto, estilo na acepção clássica. De uma forma ou de outra, o estilo pressupõe aquilo que para o artista é o inaceitável puro e simples: saber, previamente, o que pintar. Daí a diversidade dos seus quadros, as espantosas transformações pelas quais, discretamente, vão passando. Tão espantosas quanto o pacto silencioso, a unidade,que logram constituir entre si. Em um certo sentido, são o mesmo quadro. Exatamente para atingir, na plena potência, a virtude do mesmo, devem ser diferentes, tentativos, incessamente devem refazer a experiência inaugural da pintura.
Morandi, por exemplo, procurava o diverso do mesmo, Sued parece procurar o mesmo do
diverso, ambos se empenham, cezaniamente, em repor à cada tela a plena possibilidade da pintura, sinônimo, no caso, da plena possibilidade do mundo.
Do mundo, sim, daquele que Husserl nomeou o Mundo da Vida. A ordem rigorosa e a perfeição da pintura de Eduardo Sued estão no registro do instável e do inconstante, na medida de uma urgência sem termo. Para ele o real não é um constructo lógico-formal a priori; é uma ininterrupta tarefa de construção e, ao mesmo tempo, uma precipitação e uma vertigem concretas que nos atravessam. O espaço serializado, a relação “atonal” das cores, o raciocínio estrutural e o crescente impacto sensível da pintura visam assim ao que Merleau-Ponty chamou a deflagração do Ser. Sem metáforas, sem alusões miméticas, nem por isto o quadro se pretende uma demonstração pura e auto-suficiente. A presença recente de sintagmas neoplásicos pode ser enganosa nesse sentido. Definitivamente, porém, eles não agem aqui de modo a configurar uma ideia, um modelo platônico de inteligibilidade. A maneira do último Mondrian, o de Trafalgar Square e dos boogie-woogies, o jogo serial constrói, isto sim, um ritmo plástico célere que se define justamente pela abertura, a incompletude e o prazer dos paradoxos sutis.
Quer dizer, a ordem é a aventura da ordem: errância. E o fato da superfície pintada alcançar uma definição extrema, uma fixação e nitidez raras, não desmente essa espécie de errância. Ao contrário, suporta e intensifica a tensão entre o determinado e o indeterminado, o transitivo e o intransitivo, o ser e o devir. Que semelhante ordem seja passagem, transição e interrogação, eis o que deixa atônito o olhar, obrigado a conciliar a serena exuberância da tela com sua natureza problemática.
Em certos quadros anteriores aparecia com frequência um abismo, um vazio no “centro” da tela, como a impregna-la, impunha-se uma estrutura em vertigem, coerente mas implausível; as cores eram exatas e admiráveis, estranhas contudo, nada tímidas, entretanto íntimas. Agora há uma clara e explícita sentença de pintura- a superfície se declara, patente, as cores surgem inequívocas; ao invés de um vazio, existe um feixe de relações precisas que preenche todo o perímetro do quadro. E, no entanto, a estrutura permanece indecidível: ela se move de tela em tela não para confirmar ou cristalizar a sua Verdade e sim porque é recorrente, pulsa atrás de si mesma, não tem como deter. Só vem a ser viável e inteligível mediante a produção. Assim, a tela pronta não resulta módulo, protótipo a ser retomado e aplicado em outras dimensões sociais. A tara de construção não serve aqui ao ideal de transparência e comunicabilidade que notabilizou os projetos de Malevitch e Mondrian. Antes e negativamente, a tela aparece como muro: coisa de pensamento resistente ao pensamento, mundo avesso ao mundano, certeza que hesita, dúvida e intriga.
Adicionando e alterando vários esquemas formais modernos, a essa altura clássicos, o trabalho de Eduardo Sued vai compatibilizá-los com a nova situação histórica e geográfica, com o que ainda podem significar após o fracasso do que Giulio Carlo Argan denominou a Arte como Ciência Europeia. Desse modo, enquanto espaço pictórico específico, essas telas respondem a heterogeneidade, a perplexidade e a incongruência históricas do mundo atual, aos impasses do ambiente moderno tornado, senão arcaico, como toda certeza banal, desencantada e cruel. Daí esse Mondrian por assim dizer atravessado, sem o dogma das cores primárias, forçando o equilíbrio entre contrastes extremos e estranhos, daí o imprescindível Matisse, porém com o travo e a espessura do mundo. A tradição moderna, enfim, reatualizada por uma poética que jamais esquece aquela que Picasso considerava a maior entre todas as lições do Mestre, a angústia de Cézanne.
Essa angústia gera, sem dúvida, a inquietude do trabalho. Mas acima de tudo, sustenta a sua dimensão ética- a capacidade de se manter em suspenso, entre parênteses, em meio as degradações da arte e do mundo modernos. E no embate, na confusão e diluição generalizada dos valores, o leva a insistir sobre um único, mínimo e decisivo valor: a possibilidade de conceber e habitar em um mundo, seja ele qual for. Nem céticas, nem otimistas, muito menos polêmicas, estas telas anunciam talvez uma decisão paradoxal- contra tantas indiferenças alegres, tantos desesperos suspeitos e de má fé, afirmam, quem sabe, um estoicismo feliz.
Ronaldo Brito