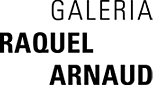ding musa_ todo olhar é político
06 fev - 22 mar_2025

Todo olhar é político
Por toda parte, o espaço. Em cada trabalho, nosso olho assiste sua materialização, seja composto por um aglomerado de coisas, seja marcado pelos limites dos objetos. Diante de seu acontecimento, o corpo se dá conta da instauração de um outro, o espaço do espectador. Essa é uma das operações mais interessantes da produção de Ding Musa: o modo como ele nos convida à observação e, assim, acaba nos implicando nela para, por fim, fazer de nós protagonistas daquilo que vemos.
O artista faz isso nos apresentando imagens – dispositivos – que instigam a curiosidade ativando a iniciativa de “tentar ver”. Ou, pelo menos, de completar o que o olho enxerga, como em um processo de Gestalt, em que o cérebro completa uma forma da qual estão faltando pedaços. No trabalho de Ding Musa, reconhecer o pedaço que falta sempre nos leva a uma consideração política, colocando o espectador como parte do funcionamento da imagem. Ela, por si só, é como um pano de fundo que só ganha significado quando quem a vê entra em cena, exercendo seus direitos de interpelá-la com o olhar.
É por acreditar nesse direito de quem vê que Ding realiza a série das matas, por exemplo, na qual paredões verdes se erguem ocupando todo o campo da imagem. A fotografia, com baixo contraste, e transições sutis de luz e sombra, nos traga para dentro da sua densidade. Tentamos ver, e então percebemos uma miríade de detalhes, de tramas, de contornos, que nos levam a notar as formas próprias desse ecossistema complexo.
Em As origens da forma na arte, Herbert Read defende a abstração como uma das principais características humanas. Em seu exemplo, o olhar que abstrai – ou seja, que isola uma forma de seu contexto para analisá-la como uma unidade em si – permitiu que a humanidade percebesse o espaço vazio entre as árvores para compreendê-las individualmente. Assim, destacamos a forma de cada uma delas do todo da floresta, agora entendida como uma composição de várias espécies.
Buscar pelo espaço nessas imagens, pelo vazio quase inexistente entre as árvores, nos faz enxergar a diversidade que compõe esse ambiente, mas também nos ensina sua coesão. Ao dispô-las junto às fotografias tomadas de deslizamentos – onde a trama da floresta se rompe e o verde se desfaz, expondo a terra vermelha –, intensifica-se a sensação de que a mata é uma estrutura composta dessa diversidade, em que cada elemento depende do outro, se apoiando para constituir o espaço. E, então, já estamos considerando a floresta como construção, e nós, totalmente implicados nela.
A instauração do espaço do espectador se aprofunda no vídeo, no qual testemunhamos uma trama surgir entre nós e o movimento da mata ao sabor do vento. Em frente ao paredão verde, um braço aparece tingindo uma grade até então invisível, primeiro de branco, depois de preto, por último de vermelho. Juntas, a ação e a cor revelam a distância entre o olho e a imagem, mostrando que ela é preenchida por uma estrutura real. Agora, esse espaço entre é tangível, palpável. Cabe a nós considerá-lo e, talvez, interpretá-lo. Se interpretamos, começamos a intervir.
A interpretação é parte do mecanismo das monotipias. Estas são feitas a partir de uma superfície entintada, que é marcada por um tecido de algodão grosso e, então, prensada sobre o papel. Ali fica gravada a trama quadriculada e maleável, em alguns pontos esgarçada pelo uso, em outros, rompida pela degradação do material. O trabalho retoma e atualiza questões já tradicionais da arte construtiva feita no Brasil: a organização da superfície moderna a partir das formas geométricas, o grid (unidade de construção) como estrutura para composição, a negociação e a maleabilidade dessa estrutura diante da experiência da precariedade. A esse arcabouço dos anos 1950, podemos acrescentar certa semelhança percebida na ondulação do grid com o as tecnologias atuais de modelagem em 3D.
Mas a promessa construtiva que o trabalho poderia ter encontra seu termo na materialidade, o tecido é aquele cotidianamente usado como pano de chão. A utopia moderna tem como limite um dos serviços mais arcaicos de nossa sociedade, aquele que sustenta as necessidades mais básicas, o serviço doméstico. Por outro lado, é no reconhecimento do vazio – neste caso, os vazios da trama – que o espectador entende sua precariedade. O olho, uma vez mais, é convocado a interpretar a relação da forma com a política de sua construção; da utopia com um tecido social precário; da modernidade com um pano de chão.
Nesses e em outros trabalhos de Ding Musa, o que está em jogo é a relação – ou coincidência – entre a compreensão da imagem e o exercício da política. Se aceitarmos seu convite, e a afirmação de que todo olhar é político, inevitavelmente precisamos formular as questões e, então, entender como nos posicionamos diante delas. É um jeito ético de estar no mundo. É um jeito.
Yuri Quevedo
imagens da exposição